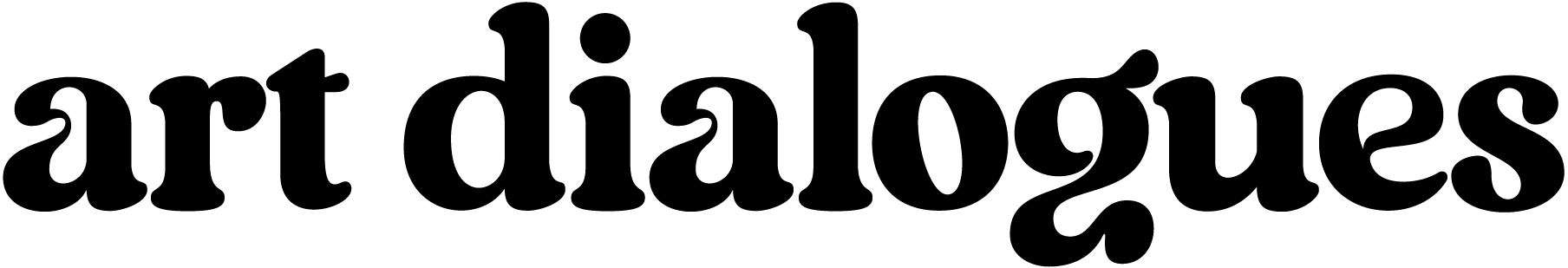Entre Ateliês e Ruas
Costumo pensar na minha prática de ateliê como a ocupação de um espaço liminar. Para mim, o ateliê nunca é apenas uma sala com paredes, mas algo em fluxo, algo que existe entre o privado e o público, entre o espaço interior onde reflito e o mundo exterior que interrompe, provoca e me inspira. Ao longo das últimas duas décadas, meu caminho diaspórico me levou pela Cidade do México, Chicago, Nova York e Montreal. Cada cidade deixou sua marca, remodelando não apenas minha vida cotidiana, mas também minha relação com o ateliê como lugar de criação.
Às vezes, tive o privilégio de um espaço dedicado, onde pude organizar objetos, encher prateleiras de livros e montar equipamentos de som e iluminação. Outras vezes, meu ateliê não passava de um pequeno quarto alugado, tão estreito que os materiais precisavam ser empilhados. E houve ainda longos períodos sem nenhum ateliê, quando transformei as próprias ruas em espaço de trabalho. Nesses momentos, caminhar tornou-se método, e a cidade, um ateliê poroso, sem paredes.
O Ateliê como Laboratório
Penso no ateliê como um laboratório de ideias, um lugar onde o vazio se torna terreno fértil para a experimentação. Uma cadeira, uma mesa, uma parede, até o chão — nenhuma dessas superfícies é neutra; todas participam do processo criativo. Quando produzo animações em recorte, o ateliê se transforma em uma espécie de caverna mágica. Tesoura, papel, objetos e iluminação se combinam para gerar universos em miniatura de imagens em movimento, frágeis, mas vivos.
Minhas animações mais recentes foram criadas para um longa-metragem do cineasta mexicano Javier Toscano, com estreia prevista para 2026. Neste projeto comecei pelo roteiro, mas logo expandi para outros materiais — fotografias antigas, livros e revistas locais. Esses fragmentos funcionaram como arquivos e, quando reunidos, geraram metáforas visuais que reforçaram as narrativas mais abstratas do filme. Não foi a primeira vez que trabalhei assim. Animações anteriores, como Tracking Memory (2015) e Giants are Sleeping (2017), nasceram de processo semelhante: tecendo memória, imagens e som em colagens em movimento. O mesmo caminho inspirou instalações de vídeo como Cinco Poemas Tonales para Edificios, Chinatown (2018), produzida com o coletivo URBE na Cidade do México, e o ensaio visual Walking in Lightness (2018). Em todas essas obras, o ateliê tornou-se espaço híbrido: parte arquivo, parte oficina, parte território onírico.
O Som como Prática Central
Apesar da diversidade de meios, o som permanece no núcleo da minha prática. É ele que estrutura os projetos, seja através da caminhada, do rádio ou da instalação. Meus ateliês, por mais temporários ou precários que fossem, sempre estiveram repletos de equipamentos de som — caixas, microfones, discos rígidos. Hoje tenho pelo menos vinte HDs externos guardando arquivos de mídia: gravações, fragmentos, experimentos, composições. Alguns já nem podem ser abertos porque os formatos ficaram obsoletos, o que me fez perceber que o próprio arquivo digital é uma extensão do ateliê. Computadores e caixas de som não são apenas ferramentas de edição; são instrumentos virtuais, intocáveis mas manipuláveis, que moldam ambientes sonoros efêmeros e imersivos.
O rádio também se tornou uma dimensão essencial desse trabalho. Com projetos como Radio Synthesis (2024–2025) e A Radio Memorial for Gloria (2025), meu ateliê transformou-se em uma estação pirata de transmissão. Usando transmissores FM, antenas e equipamentos analógicos, lancei improvisações sonoras no ar, rompendo os muros do ateliê. Essas transmissões não precisavam de imagens ou telas; exigiam escuta ativa, criando um espaço coletivo na imaginação de quem sintonizava. Assim, o rádio tornou-se outra extensão do ateliê, redefinindo suas fronteiras e convertendo a escuta em ato social e relacional.
Caminhar como Ateliê
Caminhar é outra forma de expandir o ateliê para o espaço público. Para mim, andar não é apenas atravessar geografias, mas também um método de escuta, uma maneira de trazer a cidade de volta para a prática. Quando registro passos, vozes ou sons ambientais, estou dobrando o espaço público dentro do trabalho, tornando-o parte do ateliê. Em projetos como Los Pasos de Mama Killa (2024), desenvolvido na Bolívia, e Third Ear Radio, em Valparaíso, Chile, caminhar tornou-se tanto uma alternativa à ausência de um ateliê físico quanto uma exploração do estar situado. Esses projetos itinerantes revelaram a porosidade da minha prática: a forma como ela se adapta às circunstâncias, transformando a falta de acesso em oportunidade e a ausência em método.
Fragilidade e Privilégio do Espaço de Ateliê
Tudo isso me fez refletir profundamente sobre a fragilidade do espaço de ateliê hoje. Ter acesso a um ateliê dedicado tornou-se cada vez mais um privilégio, sobretudo em cidades onde o mercado imobiliário é especulativo e excludente. Para mim, o ateliê sempre foi contingente: às vezes disponível, frequentemente precário, sempre moldado pelas circunstâncias. Dependia do que eu podia pagar em determinado momento, da generosidade de amigos ou dos compromissos de dividir moradia. Essas experiências me ensinaram que o ateliê não é apenas espaço de solidão, mas também de companheirismo e negociação.
Ainda assim, sempre que tive acesso a um, o ateliê se tornou catalisador. Permitiu reunir descobertas, reflexões, paisagens sonoras e objetos em um mesmo lugar. Deu-me espaço para desacelerar e pensar de outro modo. Ao mesmo tempo, sei que a criatividade não depende apenas do ateliê. Minha prática foi igualmente nutrida pelas ruas, pela escuta coletiva, por montagens temporárias e improvisadas. A beleza do ateliê não está em sua permanência, mas em sua capacidade de se adaptar e transformar, de absorver o que a cidade oferece e refletir em novas formas.
O Ateliê como Ecologia
Com o tempo, passei a ver o ateliê não como uma sala fixa, mas como uma ecologia de práticas. Às vezes, é uma caverna de recortes e luz. Outras vezes, uma estação de rádio pirata. Outras ainda, apenas o ato de caminhar pela cidade. O que une essas diferentes versões é o fato de serem todas adaptativas, porosas e abertas aos contextos que as moldam.
Nesse sentido, meu ateliê é uma extensão da minha forma interdisciplinar de trabalhar. Ele se desloca de acordo com o projeto, com o orçamento disponível e com a cidade em que habito naquele momento. Está constantemente negociando entre o individual e o coletivo, entre o gesto solitário de editar um arquivo sonoro e o gesto comunitário de transmiti-lo a um público invisível. É ao mesmo tempo frágil e resiliente, precário e gerador.
Acredito que todo artista precisa de um espaço para pensar, refletir e desacelerar. Mas também reconheço que as formas que esse espaço assume são múltiplas e muitas vezes instáveis. Para mim, o ateliê nunca foi um refúgio glamouroso, apartado do mundo. Foi um espaço de negociação, um céu frágil em cidades onde o ar é escasso e uma membrana porosa pela qual passam som, imagem e experiência.
No fim, o ateliê tem menos a ver com metros quadrados e mais com relações: com o som, com o espaço, com os outros e com a própria cidade. É nessa ecologia em movimento — entre paredes e ruas, silêncio e ruído, solidão e coletividade — que minha prática continua a se desdobrar.
Para saber mais sobre Amanda Gutiérrez @cadadosis // amandagutierrez.net
Fotos: Paola de Anda, Amanda Gutiérrez, e Alexis Bellavance.