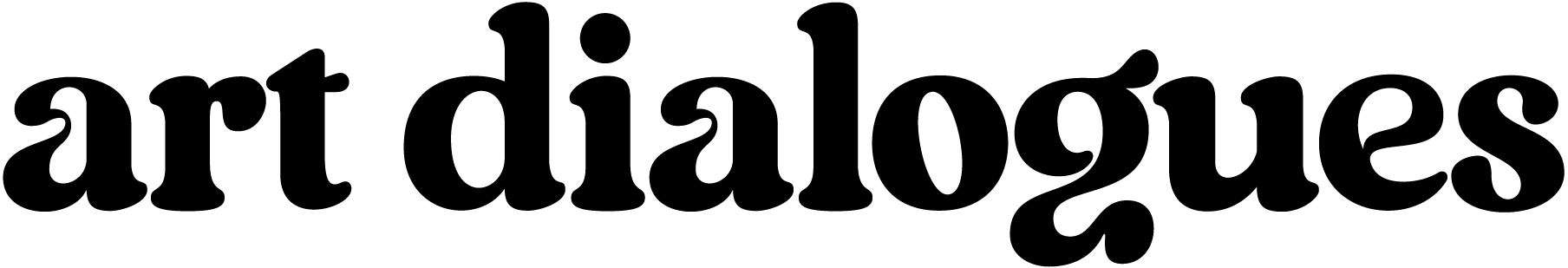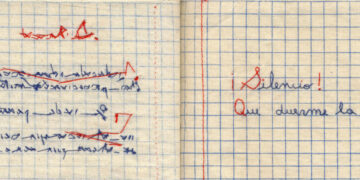Raoni Azevedo: Bom, acho que uma boa maneira de começar é…
Allan Weber: Começando [risos].
RA: [Risos] Você lembra de quando a gente se conheceu? Foi lá em São Conrado (Rio de Janeiro), se não me engano. A gente trocou uma ideia naquela pracinha que ficava do lado da Carambola [Espaço (desativado) de exposições independente, gerido por artistas em um casarão em São Conrado, na rua Jornalista Costa Rego]. Você tinha um cabelinho meio chanelzinho, do skate.
AW: Foi no bagulho do Edu [de Barros] ?
RA: Pode ter sido. Como você chegou na Carambola?
AW: Conheci a Carambola através do Zé [Tepedino]. Antes de trabalhar com artes, eu fazia uns trabalhos com ele. Zé me chamava para ajudar os contrarregras lá, como assistente. Um dia ficou super ocupado e pediu para eu montar um trabalho numa galeria na Gávea e me explicou como era para fazer e eu montei. E depois perguntei para ele se eu podia ir na exposição.
RA: Quanto tempo você ficou trabalhando com ele nesse esquema?
AW: Uns três anos.
RA: Bastante tempo. A gente se conheceu lá por 2018, quando o Maxwell [Alexandre], estava com a gente também. Estudamos juntos desde o início da faculdade e ele era amigo do Edu. Eu vim de uma família do interior, lá de Friburgo. Mas a minha mãe era uma pessoa muito orgulhosa. A coisa do artista, do trabalho autoral, era uma parada pra ela. Quando eu cheguei na faculdade, eu também era meio orgulhoso, sabichão. O Maxwell foi uma das primeiras pessoas com quem conversei, mas o legal é que em vez de ele ficar recalcado com quem sabia mais, ia atrás de descobrir as coisas, fazer perguntas. E foi assim que conheci o Edu. E talvez tenha sido assim que encontrei o Zé também. Eu não lembro exatamente.
AW: Você conheceu o Zé na faculdade então?
RA: Foi. Fiz faculdade com ele, o Maxwell Alexandre e o Edu de Barros. O Zé também era amigo do Demian [Jacob] e outros amigos meus de infância. A família dele toda conhece a minha, através daquele grupo Sufi [O sufismo é uma vertente mística do Islã focada no autoconhecimento e na conexão direta com o divino, com práticas como meditação, poesia e filosofia. Tem afinidades com outras tradições místicas, como a cabala, o hinduísmo e o cristianismo contemplativo], que também foi uma grande formação para mim porque me ensinou muito sobre contação de história, pensar em metáforas, como passar ensinamento e tal. Isso foi uma parada que permaneceu na minha prática. Mas é engraçado a gente ter se conhecido lá atrás. Foi justamente quando eu passei a morar na Rocinha e trabalhar com o Maxwell e a gente criou A Noiva – Igreja do Reino da Arte [coletivo de arte e espaço de residência artística na Favela da Rocinha, no Rio de Janeiro] porque as pessoas ficavam muito no ateliê e tinha uma galera se juntando.
AW: Eu conheci o Zé quando eu trabalhava no estoque de uma loja da Osklen [marca de roupa carioca], em Ipanema. Como eu moro na Cinco Bocas, lá na Zona Norte, eu ficava duas horas em pé no ônibus para voltar pra casa porque na época existia a [Via Elevada da] Perimetral, tá ligado? Eu não frequentava a Zona Sul, então, as coisas eram muito novas para mim. Eu ficava: caralho, estou perto da praia sozinho! Posto 9! Legalize!
Allan Weber, Passinho, da série Novo balanço, 2024. Lona, dimensões variáveis. Foto: Edouard Fraipont. Cortesia do artista e Galeria Galatea.
RA: Eu também tive essa experiência com a Zona Sul e com o Rio porque sou de Friburgo. Eu me perdia direto, como agora quando a gente viajou para uma cidade nova, Nottingham. Eu conheci o Rio assim também.
AW: Eu lembro que a primeira vez que matei aula e vim à praia escondido, fiquei várias semanas de castigo. Foi quando comecei a trabalhar lá que passei a frequentar mesmo, mas eu tinha uns 15 anos. E aí fui parar na pista de skate da Lagoa e encontrei uma galera que também ouvia rap e fumava. Foi através de amigos do skate que me aproximei mais da arte.
RA: Para mim foi o caminho contrário. Eu cheguei pelo interesse no design. Na minha família todo mundo é resolvedor de problemas: minha mãe é arquiteta; meu irmão mais novo trabalha com nutrição, mas agora tem emprego como atendimento ao consumidor; e meu irmão mais velho faz evento. E eu entrei no design. Quando conheci o Maxwell, que era um moleque muito engraçado, percebi que tínhamos os mesmos interesses. Acho que a gente se liga nisso até hoje, em pessoas que têm fogo no olhar, sabe? Gente que está bem viva e prestando atenção nas coisas. Dá pra se reconhecer, né? E a gente se reconheceu na faculdade e ele me apresentou ao skate, patins, cultura de rap. Eu entrei nessa parada através dele. Minha mãe vem da formação do PT [Partido dos Trabalhadores] e é petista desde novinha. Metade da minha família é anarquista, e do outro lado, todo mundo é comunista. E minha mãe sempre falou muito sobre como era importante trocar ideia com todo mundo.
AW: Eu tinha a mesma curiosidade. Lá na favela eram sempre as mesmas pessoas, os mesmos lugares – baile, pagode. E depois que eu comecei a circular pela Zona Sul e vi como as pessoas se vestiam, como elas se posicionavam, como elas eram, eu também tive uma curiosidade. Porque elas sempre falavam de assuntos que eu não escutava muito. Na minha família todo mundo veio de berço evangélico, então, eu sempre tive esse direcionamento: é para ir à igreja e seguir o caminho do Senhor e só. Eu ia, mas era meio forçado. Eu não curtia. Acho que por só ter visto isso, só ter vivido isso, durante a minha infância e adolescência, tive curiosidade por ver outras coisas depois.
RA: Boto uma fé. Minha criação espiritual ou religiosa é o oposto. Minha mãe, que era de Minas, falava: ‘a gente está em Friburgo, mas a gente não é daqui, não. Aqui as pessoas têm a cabeça meio fechada, mas se lembrem de ter a cabeça mais aberta’. Então, tinha essa coisa de não ser de lá, mas eu tive uma infância tranquila em Friburgo, foi gostoso. A gente cresceu na rua, andando de bike para cima e para baixo, indo na casa um do outro, se perdendo. A cidade inteira era nossa. Foi maneiro. Mas eu não tenho amizade com as pessoas do colégio. Meus amigos são desse grupo sufi, que é uma corrente mística do Islã, explicando muito pobremente. Foi algo que me formou muito. Meu pai saiu de casa cedo e a gente perdeu o contato depois de um tempo. Minha mãe foi mãe solteira, tentando criar três sozinha. E era nesse lugar que a gente tinha referência de outras famílias e de outros caras maneiros que criavam os filhos. Virei amigo, até meio sobrinho, de uma galera que eu admirava também. Isso me deu sustentação. Então, essa parada espiritual, da igreja, era algo que eu fazia questão de ter.
AW: Maneiro. É engraçado que depois dessa minha convivência com a igreja, eu fui me interessar pela Igreja do Reino da Arte. Porque não me sentia pressionado, né? Eu me senti pressionado depois que virei artista em função do trampo, mas ali era tudo muito novo para mim. A partir disso eu conheci também o Primo da Cruz [artista brasileiro, 1983-2020], quer era a única pessoa com quem eu conversava e era do mesmo lugar que eu. A gente não falava sobre arte, só falávamos sobre coisas dos nossos lugares. Eu já tinha o desejo de produzir arte antes. Eu fazia fotografia e vídeo, mas foi nesse momento que veio a vontade de construir um objeto e trabalhar essas possibilidades. Ver a rapaziada da Rocinha fazendo isso me fez pensar que eu também poderia fazer, tá ligado?
Imagem à esquerda: Allan Weber, Sobe Balão, da série Traficando Arte, 2021/2025. Impressão em papel Canson Photo Rag stock 308gsm, 76.5 x 51.5 cm. Imagem à direita: Allan Weber, Os queridin do chefe, da série Traficando Arte, 2021. Impressão em papel Hahnemühle Photo Rag Baryta 315gr, 75 x 50 cm.
Cortesia do artista e Galeria Galatea.
RA: Sim, sim. Eu tenho interesse nessa parada do ‘fazer’ desde moleque. Minha mãe não gostava de comprar coisas. Em vez de comprar um presépio ela fazia um, com os pedaços que sobravam das maquetes e assim, ensinava a gente a colar as coisas. Então, desde pequeno, eu desmontava e remontava carrinho. Eu gostava de aprender como as coisas eram feitas. Por isso eu fui fazer design e depois comecei a trabalhar com cinema. Até hoje eu gosto muito de cinema, mas não virou. Quando fui trabalhar no departamento de arte, vi que para produzir ali, teria que aprender teoria. Eu pensei: fudeu, vou ter que fazer uma faculdade ou eu vou ser só um assistente para sempre. E no curso de design dava para aprender um pouco de cada coisa: tinha fotografia, vídeo, teoria, aula de história. Então deixei o cinema para lá e, no meio do caminho, a gente descobriu a arte com alguns professores da PUC e entrou nessa onda. Mas não dava só para gostar, a gente queria se embrulhar com a parada.
AW: Acho muito foda isso de ser um processo que existiu desde pequeno, quando você desmontava carrinho. Você sempre foi uma pessoa fazedora. Isso me lembrou que quando eu era menor, eu não era uma criança que ia desmontar carrinho, mas eu inventava uma brincadeira, sabe? O meu irmão era muito pequeno e por muito tempo eu brinquei sozinho. Eu montava cenários para os bonecos, jogava futebol na laje sendo jogador dos dois times ao mesmo tempo. Acho que isso da gente inventar e se reinventar vem desde pequeno.
RA: Você já ouviu falar de um maluco que escreveu um livro chamado Cartas para um jovem poeta, em que ele troca ideia com um moleque novinho, que quer ser poeta? Ele é um poeta fodão, [Rainer Maria] Rilke. Foi um livro que a gente leu lá no começo que foi muito maneiro. Eu sempre falo ‘a gente’ porque foi um grupo de pessoas muito conectado – eu, o Maxwell, o Eduardo, o Cario Rosa também, que é fotógrafo e está em São Paulo.
AW: Tinha também o [Rodrigo] Rosm.
RA: O Rosm também estava sempre junto. Ele fazia as edições dos livros de artista – ele tem uma editora [Casa27], né? Era uma galera que ia circulando. A Maria Antônia [Souza], que é uma pintora braba, também está por aí agora, e os moleques do Grafite. Nós três éramos amigos mesmo, mas tinha toda essa galera em volta com quem a gente se relacionava numa rede. Mas, enfim… a gente leu esse livro e esse autor falava que se quer saber mesmo se você quer fazer alguma coisa, precisa deitar à noite, quando não tem ninguém em volta, e se perguntar se precisa dessa coisa para existir. E ele diz que se você responder que sim, isso provavelmente tem uma força que te puxa desde a infância. Algo assim, eu posso estar inventando [risos]. Mas ele fala que é dessa fonte da infância que a maior parte do trabalho vai sair. E eu acredito nisso. Por exemplo, tive que aprender a ser muito diplomático e estratégico, que é um pouco o que faço com os artistas com quem eu trabalho, com você.
AW: De onde você acha que veio isso?
RA: Sou o filho do meio, mano! Minha mãe era uma mulher fortona que tinha que mandar em três moleques. Na hora que baixava nela a voz de general, os três ficavam quietinhos. Meu irmão mais velho era muito maior que a gente e muito mais agitado também. E meu irmão menor não podia reclamar de nada. Então, eu tive que aprender a negociar e entender quais eram os humores por baixo do que estava sendo dito. E sempre fui uma criança um pouco ansiosa, então aprendi muito a ler esses sinais e agir de maneira estratégica nesse sentido. E sempre gostei de me comunicar e estar com gente, ir na casa das pessoas. Acho que isso se relaciona com as ‘traduções’ que eu faço também, que não é só de línguas, mas também de conversas e espaços.
AW: Isso também te levou a circular por vários lugares, né? Você tem essa facilidade de circulação e isso te ajuda a entender os lugares e interpretar ou traduzir esses lugares.
RA: E até por isso, acho que temos uma familiaridade. A gente reconhece um no outro essa coisa de gostar de circular. Eu fico muito impressionado com a sua capacidade de estar na rua, de ver os movimentos que estão acontecendo. Você sempre se interessou em ver as coisas na rua e como as pessoas se relacionam, quem faz o quê?
Allan Weber, Sem título, da série Dia de Baile, 2021. Lona sobre palacete, 2200 x 1100 cm. Cortesia do artista e Galeria Galatea.
Allan Weber, Sem título, da série Dia de Baile, 2022. Lona, 19.5 x 27.5 cm (cada). Cortesia do artista e Galeria Galatea.
AW: Eu sempre fugi para a rua. Desde menor, a rua sempre foi meu refúgio, tá ligado? Se eu ficava de castigo, fugia pra rua. Se eu ia pra igreja, quando saía, colocava tinta dentro de um violão e ia para a rua pichar. Então, sempre me senti bem na rua e muitas das coisas que fiz na minha vida aconteceram na rua. Eu não sou formado – não terminei a escola, então, tudo o que aprendi, eu aprendi na rua. E aí você falou em aprender a ser estratégico… No meu caso, acho que isso veio muito da pichação e da forma como o tráfico de drogas funcionava, no sentido da estratégia que eles tinham para dominar espaços e territórios. Você precisava de estratégia para escolher um lugar para pichar. Onde você vai pichar? Até quando sua pichação fica lá? Como você vai subir nesse lugar? Como as pessoas que passam vão ver aquilo? Então, existe uma afinidade estratégica e estética muito apurada nisso e acho que essa estratégia, essa curadoria, tem a ver com a forma de me posicionar hoje em dia. Comecei a fazer arte com pichação, mas não praticava colocando um nome nisso, mas sim usando estratégia para poder me posicionar.
Allan Weber, Endola, da série Traficando Arte, 2022. Filme PVC sobre tela, 32 x 32.5 x 3.5 cm. Cortesia do artista e Galeria Galatea.
RA: Isso é bem claro no seu trabalho mesmo. Ele tem um impacto de pichação, de tomar um espaço muito oportuno. Algo como: você deixou esse espaço aí em branco, então, deixa eu pegar aqui para impulsionar o máximo de impacto, né?
AW: E também sobre ser duradouro porque, para o pichador, quanto mais tempo o ‘trabalho’ ficar num lugar, melhor. Mas é difícil de explicar como fazer isso. Quando você vê uma pichação hoje em dia num vidrinho ou em uma loja e a data é 2000, 2005…
RA: Aquelas ali onde era a entrada da Perimetral. Os caras pegaram aqueles viadutos lá e ninguém nunca apagou nem passou nada em cima e a pichação deles está lá até hoje. Sempre me impressionei com isso.
AW: E isso é muito uma apuração estratégica e estética. Eles já estão pensando em estética ao criar um nome. É doido.
RA: Se a cidade der certo, vão ter que fazer uma restauração daquele pixo como fizeram com a do Gentileza [artista carioca], porque já é parte da história. A gente chegou nesse assunto, porque você se considera um especialista em trânsito e a gente estava falando da rua, que é onde você se sente confortável. Para você se meter como entregador em plena pandemia… Para mim seria um terror, mas para você foi de boa?
AW: Foi. Fiquei muito preocupado porque meu filho era pequeno, nasceu em 2019. Eu só pensava nele, mas não lembro de ter tido algum pânico. Eu não tinha um vínculo com a Osklen, trabalhava de freela para o Zé, por diária. Quando a loja fechou, o Tom tinha acabado de nascer e aí já veio a pandemia. Tinha que trabalhar, então, peguei uma moto e comecei a fazer entrega. Mas a gente pegou o Covid, e precisamos ficar dentro de casa nesse tempo. Eu fiquei agoniado que não podia trabalhar, mas deu tudo certo e consegui voltar. Na favela não teve tanto essa parada de se isolar em casa. O movimento diminuiu um pouco, mas muita gente ainda estava na rua. O pessoal do tráfico local proibiu as pessoas de ficarem circulando na rua, aí a galera de menor subiu na laje para soltar pipa, indo de uma laje para a outra. Eu cheguei a fazer uma série de fotografias nessas lajes, lá onde eu moro.
RA: Então, nessa época você já estava pensando em fazer série de foto, ligado que aquilo era arte?
AW: Já.
Imagem à esquerda: Allan Weber, Sem título, da série Tamu junto não é gorjeta, 2020/2025. Impressão em papel Canson Photo Rag stock 308gsm, 60 x 40 x 3 cm. Imagem à direita: Allan Weber, Sem título, da série Tamu junto não é gorjeta, 2020. Impressão em papel Canson Photo Rag stock 308gsm, 60 x 40 cm.
Cortesia do artista e Galeria Galatea.
Allan Weber, Sem título, 2023. Saco de lanche sobre sacos de lanche, 96 x 96 cm. Cortesia do artista e Galeria Galatea.
RA: Teve algum momento específico, um ponto inicial?
AW: Não. Fui fazendo fotografia e daí saiu o livro, porque eu nunca tinha feito um objeto.
RA: O Demian ajudou no livro?
AW: Sim! Na época, a gente reunia uma galera e todo mundo ajudava a escolher as fotos e a financiar também. A gente fez com a impressão mais barata, preto e branco. E foi muito foda porque era pandemia, então, ninguém estava indo em exposição. A melhor forma da rapaziada consumir arte era através de um livro. Vocês ficaram um tempão lá em São Paulo no Cropped, né?
RA: Eu e o Edu chegamos lá no dia em que fecharam as estradas e ficamos por quatro meses. E aí foi uma mudança doida, porque subíamos ali para a Avenida Paulista de madrugada e estava totalmente vazia. A gente ficou na galeria, na Sé, e lá não tinha muita estrutura, era um lugar muito pequeno, então, a gente dava esse jeito de sair um pouco de casa. E aí depois de quatro meses, a gente se cansou da cara um do outro e voltou para a Rocinha. Os pais do Edu fizeram uma missão de resgate em São Paulo, chegaram lá, puxaram tudo e levaram a gente embora.
AW: Eu lembro. Eu acompanhei vocês online.
RA: A parada online fez o maior sucesso e o trabalho do Edu bombou muito depois disso.
AW: O livro foi assim também. Eu entregava o livro pela manhã e depois já saía entregando lanche.
RA: Que foda. Eu lembro, você foi lá na Rocinha para me entregar o livro. E é isso… Morar na Rocinha era estar perto das histórias que eu estava vivendo, tá ligado? Eu já morei em Botafogo também, mas nunca fui de Botafogo. Então, acho que agora é que começo a me entender como sendo mais do Rio. Mas na Rocinha eu era playboy. Eu sou playboy. Eu circulo muito e consigo trocar os códigos, mas na Rocinha os caras sabiam.
Both images: Allan Weber, Sem título, da série My order, 2025. Impressão em papel Canson Photo Rag stock 308gsm, 30 x 20 cm. Cortesia do artista e Galeria Galatea.
Allan Weber, Sem título, 2025. Projeção de vídeo, cor, sem som, 2’45”. Cortesia do artista e Galeria Galatea.
AW: Eu morei em São Conrado quando casei e depois voltei para a Cinco Bocas. Quando eu morava em São Conrado e trabalhava lá com o Zé, a galera achava que eu era playboy também. E quando eu falava com as pessoas, elas achavam que eu estava forçando as gírias. E por causa do meu nome também… as pessoas acham que Weber é nome de fotógrafo gringo, mas na real ele mora na puta que pariu.
RA: Foi quase uma migração dentro da própria cidade, né? Mas você também consegue circular, como recentemente você viajou para fazer essa residência. Quando eu cheguei lá você já conhecia a geral, mesmo sem falar a mesma língua. Isso é uma habilidade também, né? Conseguir saber quem tem o mesmo rolê de vida que você e se conectar, sei lá, com o cara do Egito que cortava o seu cabelo.
AW: A gente que é desse lugar tem uma linguagem do olhar que se aprende desde pequeno. Tem até uma música do Tz da Coronel em que ele fala [cantando]: Leitura de olhar, eu aprendi com o tempo/Amor é só de mãe, eu aprendi com o tempo/Nada mudou desde então/E o procedimento, sem falhar, meu fundamento/Invicto até o momento. Quando você vem de um lugar, é fácil conseguir identificar outra pessoa na rua que vem desse lugar. Não sei se é um código social. Mas a gente consegue perceber isso até fora do país, em uma cultura diferente. E, pensando nisso também, o menor de favela pratica a criatividade. Ele não tem o brinquedo que ele quer, então tem que inventar as brincadeiras. Minha mãe conta que, com quatro anos, eu tinha uma bicicleta sem banco e sem pedal, mas eu andava nela. E todo mundo queria andar nela também, mesmo quem tinha bicicleta, mas só eu conseguia.
RA: Boto fé. Curioso essa coisa da infância voltando. A gente inventava mesmo. Eu fiz malabares para vender no colégio.
AW: O que é isso?
RA: De malabarismo. Eu comprava balão de festa e colocava arroz dentro para vender. Eu também vendia desenho e aviãozinho de papelão. Eles voavam para caramba! A gente não vivia uma situação fodida lá em casa, mas era meio no limite. Minha mãe vivia apertada, trabalhando muito e não ficava muito em casa, então era também sobre inventar coisa para fazer.
AW: É! Eu também fazia uns gols com madeira de entulho, prego e saco de batata para fazer rede. Eu gostava muito de futebol. Eu também pegava fios da Telemar [empresa de telecomunicação], que eles arrancavam e deixavam por aí, e fazia pulseira e medalha, juntando com uns pedaços de couro.
RA: [Risos] Caraca, também fiz pulseira trançada, mas era um bagulho bem mais hippie. Você fez rampa de skate depois, né?
AW: Fiz! E só depois que eu fui trabalhar com skate.
RA: É curioso que, para mim, sempre que eu aprendia a fazer uma coisa, abandonava e partia para outra porque meu interesse era aprender como é que fazia aquela parada. No começo, eu insisti, querendo ser o protagonista do meu trabalho de arte, mas depois percebi que me cansava muito rápido. E gosto muito de colar com alguém que está trabalhando, muito empolgado, e ajudar o trabalho a ficar maior. Eu fiz isso com o Maxwell, depois trabalhei um tempo com o Edu. Eu fiquei muito tempo como diretor de estúdio do Maxwell e quando saí, achei que eu ia ficar na merda, porque não tinha nada para mostrar. Mas depois começaram a surgir uns convites e você me chamou para trabalhar e aí que eu me liguei que o que eu fazia podia ser uma profissão. Como foi que você falou hoje quando eu disse que fui ajudar meu irmão? Que eu deixo ele jogar solto? Acho que a minha função é muito essa mesmo, de segurar as pontas e dar a bola para você cabecear e marcar. Deixar você jogar solto. Eu não faço questão de marcar gol, mas gosto de fazer um bom lançamento. Curto jogar em equipe.
AW: Sim. Eu acho muito importante essa parada de equipe. Tudo que aprendi lá na comunidade está relacionado à equipe, né? O nome já diz… todo mundo se ajuda. A comunidade se junta para fazer uma festa junina, uma feijoada de São Jorge, organizar alguma coisa quando alguém morre. Existe essa união.
Allan Weber, My Order, 2025. Vista expositiva, De La Warr Pavilion, Bexhill On Sea. Foto: Rob Harris. Cortesia do artista.
RA: Eu boto fé. Convivendo mais com você, fui vendo que você tem time de futebol, montou uma galeria numa barbearia, tem o trabalho da barbearia, tem o trabalho dos moleques endolando as telas… que é uma parada que é simplesmente um ritual de gente se reunindo para mudar de vida, que você chamou de tecnologia de existir, né?
AW: É essa circulação… E não necessariamente se trata de uma coisa só, a gente inventa e reinventa esses dispositivos. A ideia não é sair salvando todo mundo, mas é sobre o fazer e, através desse fazer, as pessoas acessarem alguma coisa ou isso despertar algo nelas. Não necessariamente todo mundo vai virar artista, até porque o que a gente faz é muito abstrato…
RA: Mas vai saber… A gente com certeza conhece um bando de artista que não é artista. Até porque hoje tem essa coisa que todo mundo tem que ser produtivo e isso chegou na arte também: ser artista quer dizer produzir um monte de coisa, deixar um monte de obra, organizada em série. E tem um bando de artista que é artista sendo contador de história, contador de vantagem.
AW: Eu acho que ser artista é ser o menos artista possível. Porque às vezes não é nem sobre arte, é sobre sobrevivência também. É ser artista na vida.
RA: É a postura que você falou antes, né? Essa coisa do fogo aceso no olhar. O grafite, por exemplo.
AW: É, é também sobre o que a gente conta… A favela não é só essas coisas ruins que a mídia mostra. O bairro não é só sobre drogas, é uma manifestação cultural de um lugar. É a cultura enraizada do Brasil.
RA: Sim, e nesses lugares que são apresentados como a exceção desse caos, esses lugares ‘mais limpinhos’, os caras estão vivendo um outro mal. Seja o mal da solidão de uma galera que não se conecta com ninguém, nem nada… Você vai lá pro meio da Inglaterra para mostrar a tecnologia de comunidade porque os caras sentem falta disso.
AW: Eles não conhecem.
RA: E aí vem você com a maior alegria falando das coisas que curte e para eles parece impossível viver num contexto como esse. E você diz: não só é possível, como eu ainda sou feliz à beça. Caô tem, né, mas tem para todo mundo. Mas eu acho engraçado que eu e você temos, em comum, essa vontade de circular, mesmo tendo vindo de lugares e contextos diferentes.
AW: É. O baile, por exemplo, é muito foda porque é uma festa dos trabalhadores, é o momento de se divertir. A rapaziada não tem condição de curtir uma parada na Zona Sul. E você chega na favela e tem um baile, é um momento de lazer. Todo mundo que você conhece está ali, não precisa pagar entrada, a cerveja é barata. É uma festa nossa. Tem até uma frase do Luiz Antônio [Simas] “A gente não brinca e festeja porque a vida é mole. A gente faz festa porque a vida é dura”.
RA: Acho até que podemos encerrar por aqui porque essa frase é foda, né? E fala dos seus dois últimos trabalhos. A gente também está fazendo arte porque a vida é dura. A gente faz isso porque é um lugar de refúgio.
AW: Refúgio, é isso! Valeu demais, Raoni.
RA: Valeu, Allan!
Allan Weber, Fé nos Trabalhos, da série Traficando Arte, 2021/2025. Impressão em papel Canson Photo Rag stock 308gsm, 77 x 58 cm.
Cortesia do artista e Galeria Galatea.
Valentina Tong, Cariri, 2021 Cortesia da artista.
Allan Weber, Sem título, da série Traficando Arte, 2022. Câmera fotográfica, cimento e vergalhão, 52 x 25 x 5 cm. Cortesia do artista e Galeria Galatea.
Imagem abre: Allan Weber, Sem título, da série My Order, 2025. Impressão em papel Canson Photo Rag stock 308gsm, 20 x 30 cm.
Cortesia do artista e Galeria Galatea.