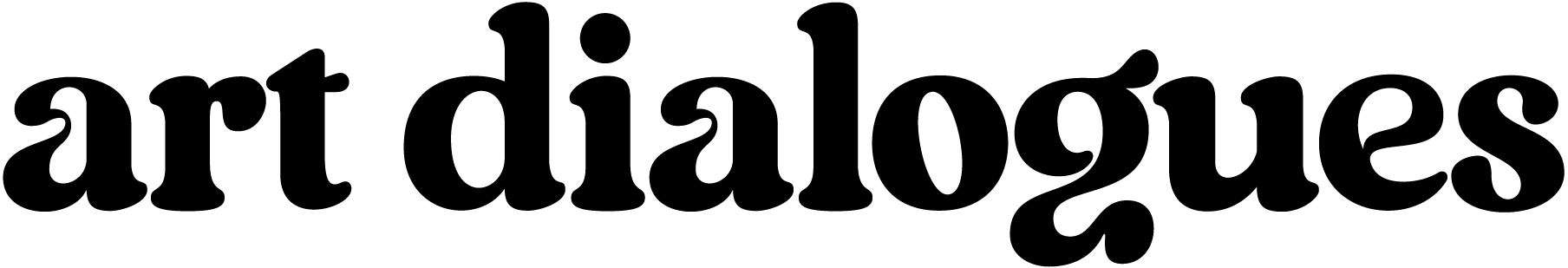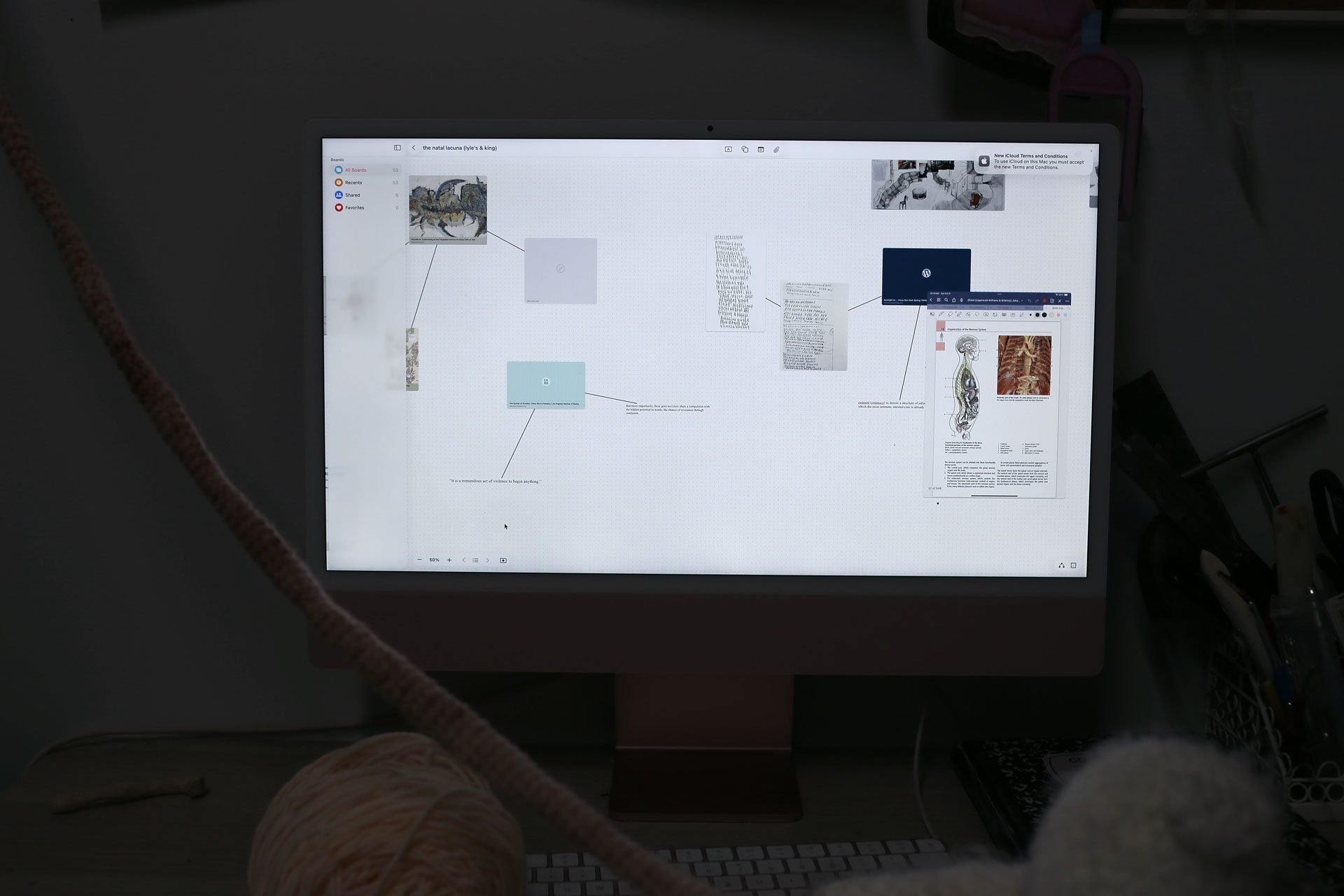Sobre a salvação do trabalho e do labor ao “mito” do unicórnio:
Tenho 24 anos agora e faço crochê há mais da metade da minha vida. Devo ter começado por volta dos 12, mas minha lembrança mais clara é aos 14, quando me disseram que eu não poderia fazer crochê enquanto estivesse internada no hospital. Algo sobre medidas de segurança: nada de cadarços, cordões de moletom e, aparentemente, agora também nada de lã. Não consigo imaginar que eu tenha sido a primeira pessoa a ter sua lã negada ao dar entrada no hospital, e essa memória ficou marcada desde então.
O crochê, assim como muitos meios têxteis, tem uma longa história associada às suas propriedades calmantes e tranquilizadoras. No início dos anos 1900, atividades como tricô, patchwork e crochê eram prescritas como uma espécie de antídoto para curar a histeria — o diagnóstico genérico atribuído a qualquer mulher que se desviasse do caminho rígido traçado pelos homens. Houve muitas práticas antiquadas prescritas na tentativa de curar a “histeria”, como a lobotomia (1), as massagens pélvicas e a eletroconvulsoterapia (2), que vêm logo à mente. Entre todas essas “curas”, o trabalho têxtil parece ser o mais enraizado em alguma forma de lógica ou razão que não passe pelas perversões médicas. A “cura pelo repouso” foi outro tratamento terapêutico que, embora soe inofensivo, quando levado aos extremos dos anos 1900, parece no mínimo mal informado e, no pior dos casos, cruel (3).
Em resposta à ideia da cura pelo repouso, o Dr. Herbert J. Hall, médico de New Hampshire, desenvolveu em 1922 sua teoria da “cura pelo trabalho”. Tratava-se de uma antítese ao estado bastante mórbido imposto pelas curas forçadas de repouso. Seu conceito se baseava na noção de propósito e começou a ganhar força junto ao crescimento do movimento Arts and Crafts nos Estados Unidos. Hall frequentemente prescrevia práticas artísticas têxteis a seus pacientes para tratar doenças mentais. Seu colega no campo da terapia ocupacional (4), o psiquiatra William Dunton Jr., foi além: supervisionou sessões de quilting e organizou uma exposição de colchas no Sheppard Asylum, além de várias outras exposições nos anos seguintes (5).
Hoje, o trabalho como cura para a melancolia ou para a doença soa como um conceito estranho. No papel, prescrever trabalho para curar uma doença ou diagnóstico ecoa ordens forçadas de retorno ao trabalho durante a pandemia de covid-19, ou a “girlbossificação” do workaholism no início dos anos 2010, quando a depressão pós-parto era enfrentada com “soluções” como dobrar a aposta, ter mais filhos, cuidar da casa e manter um emprego em tempo integral. Isso, porém, não é “trabalho” — ao menos não no sentido pretendido — da mesma forma que exposição não é pagamento e “pensamentos e orações” não são soluções para falhas estruturais do governo. O trabalho remunerado a taxas compensatórias é um trabalho corrompido pelo capitalismo, assim como o trabalho invisível que sustenta a espinha dorsal de um sistema capitalista não é trabalho conforme a definição pretendida da palavra.
trabalho (substantivo): atividade que envolve esforço mental ou físico realizada para alcançar um propósito ou resultado.
Vejo todo o labor que coloco na minha arte como Trabalho — não trabalho definido por um sistema que depende da exploração dos outros, mas trabalho definido por suas propriedades de realização. Pode ser prazeroso, mas muitas vezes é árduo, irritante ou penoso, com a recompensa encontrada no resultado ou na conclusão: a jouissance (6) do labor. Minha rotina é rigorosa e a implementação de uma disciplina estrita carrega o mais leve odor de uma educação católica. De segunda a sexta, frequento o estúdio das 9h às 19h ou das 10h às 19h. Às segundas e sextas, acordo às 7h, faço minha rotina matinal de contorcionismo ou yoga (em esquema alternado para não me machucar) e chego ao estúdio às 10h. Entro então numa sala sem janelas de 3,35 x 4,88 m e fecho as portas até as 19h. De terça a quinta, acordo às 6h, faço minha rotina matinal e chego ao estúdio às 9h. Minha rotina, dentro e fora do estúdio, é enraizada numa busca por salvação — ou talvez como forma de penitência. Não há um minuto em que eu não esteja ouvindo algo: meus banhos são cronometrados por vídeos de notícias de dez minutos; meus ciclos de crochê, por palestras online e podcasts; meus dias, por audiolivros; a música que ouço é familiar o suficiente para que eu possa ler enquanto ela toca. Isso permite que minha mente permaneça em movimento contínuo, enquanto minhas mãos operam de maneira semelhante. Estou praticamente sempre fazendo crochê: faço no caminho até o trem, no metrô e, claro, no estúdio. Isso é mais memória muscular do que qualquer outra coisa — obsessão mais do que tarefa ou obrigação. O crochê é uma forma de marcar o tempo; é a prova de que existo. O tempo pode parecer parado ou até fraturado, mas sei que estou presente em seu rastro, pois há um produto resultante do insumo do movimento; faço de mim mesma uma máquina, pura.
Aloco propositalmente pontos e padrões mais simples para quando estou andando ou lendo, e os mais intrincados para o estúdio. O zumbido de toda a prática é guiado por um movimento meditativo. Consigo fazer crochê sem olhar; poderia fazê-lo atrás das costas e, muitas vezes, faço enquanto leio. Isso é, claro, apenas uma faceta da vida em estúdio. As tarefas administrativas são um aspecto não dito para a maioria dos artistas — e também o menos prazeroso. É isso que tiro da frente primeiro quando “bato o ponto”, permitindo-me a liberdade de ir e voltar entre peça, experimento e peça, em todos os seus estágios e níveis ao longo das horas restantes do dia.
O crochê é guiado por um plano definido, porém flexível: o número de pontos, o padrão, os aumentos e diminuições etc. Todo o meu Trabalho começa com um esboço. Mantenho um caderno de desenhos de forma ativa há quatro anos. Já acumulei cerca de dez, todos datados. Folheio-os, reescrevo anotações, lembro-me do que estava pensando em determinado momento. Embora minha arte seja muito tátil e material, a internet — em toda a sua ambiguidade amorfa — funciona como subtexto. Criada na internet e fascinada pelas conexões entre as coisas sou, acima de tudo, uma acumuladora de anotações digitais. Um vídeo no TikTok (7) me leva a uma busca no Google, que me leva a um blog de 2006 (8) escrito por alguém apaixonado demais pela história das colchas, que me traz a este ensaio que você está lendo agora. Palavras, imagens, sons tornam-se passagens para finais alternativos. Minha pesquisa sobre parasitas me leva a analogias sobre relações familiares, que me levam à compreensão da sociopatia no lar, que me levam ao meu irmão, que me levam a desenhar uma memória dele e de todos os seus lagartos (9) mutilados e mortos. Os loops continuam e persistem; parecem um círculo, mas são uma espiral em um plano tridimensional (10).
Todos os meses crio um novo “mapa-aranha”. É algo como um mapa mental que costura links, fotos, esboços e anotações que cercam e se ramificam a partir de um tema específico (11). O mapa-aranha é um documento vivo que existe ao longo dos primeiros e últimos dias de cada mês. Quando não estou no estúdio, trato o mapa-aranha como um terreno de descarte: uma palavra que achei interessante, um livro recomendado, uma foto de uma rachadura na calçada preenchida com asfalto em vez de cimento. Quando sinto o nó se formando na palma da mão por causa do movimento repetitivo do crochê, mudo para limpar esse terreno. Capturas de tela são organizadas, começo a analisar melhor por que algo chamou minha atenção e encontro padrões nos achados. O painel em que trabalho naquele mês pode não ter nada a ver com o que está em produção no momento. Gosto de permitir que uma ideia rumine, que germine. Espero que o impulso se torne tão grande que me faça parar no meio do caminho (esta peça foi iniciada no meio de uma frase do meu livro de tese) (12). Esse método só funciona porque venho fazendo esse processo de coleta e acumulação há anos; neste estágio, ele é autossustentável, mesmo que eu parasse de consumir informação. Por mais produtivo que seja para a forma como meu cérebro funciona, ele dificulta quando trabalho para uma exposição, pois prazos importam e não costumo deixar que uma peça seja ditada por uma restrição temporal. Isso exige uma alocação adequada de foco; preciso adiar bifurcações da pesquisa por ora, mas isso permite que o desejo pelo que quero explorar e trabalhar se torne cada vez mais urgente.
A peça em que estou trabalhando agora deriva de uma memória de um unicórnio de argila que fiz no hospital — a enfermeira quebrando seu chifre e dizendo que o unicórnio não podia ter chifre porque era muito pontudo, e coisas pontiagudas não são permitidas no hospital. Essa é uma memória de mais de dez anos atrás; penso nela desde então e, finalmente, parece pronta para ser executada.
Unicórnios têm uma história rica em muitas culturas, assim como na arte. Costumávamos acreditar que unicórnios existiam — ao menos no sentido tradicional que imaginávamos — e que seus chifres poderiam purificar a água, curar enfermidades e resolver males humanos. Procurávamos o unicórnio para capturar esse poder de cura, uma lógica muito semelhante à caça por presas e chifres de animais pelo valioso marfim. A primeira coisa que me vem à mente quando ouço sobre os poderes do chifre do unicórnio é o quão contraditório isso é em relação ao que a enfermeira me disse uma década antes. Por que o chifre do meu unicórnio de argila foi quebrado se, teoricamente, ele simbolizava a oferta de uma propriedade curativa? Obviamente, trata-se de uma associação ilógica, mas o humor e a ironia ainda assim me atingem. De modo semelhante, por que minha lã foi retirada de mim se antes ela havia sido prescrita para ajudar a remediar a angústia mental — não era isso que eu estava vivendo ali?
Acredito que, se algo fica com você, é importante levá-lo adiante, mesmo que você não saiba qual é sua importância naquele momento. O universo, Deus ou algum terceiro segredo está te dizendo algo; é um coelho pedindo que você o siga por um buraco — e você segue porque, afinal, o que mais há para fazer? Interesso-me pelos paralelos entre retirar o chifre de um unicórnio e o tratamento psiquiátrico (institucionalização e medicação). Em comunidades de adicção, existe o conceito da “síndrome do unicórnio”: uma suspeita acompanhada de lógica e compreensão de que o que você está fazendo é errado e perigoso, mas que, apesar de tudo isso, você pode ser a exceção. Você poderia se envolver com o vício e não enfrentar suas consequências; você pode ser o unicórnio que sobrevive apesar de toda a razão. Se você conhece qualquer forma de adicção, conhece bem essa mentalidade. O unicórnio é rico em sua história por inúmeras razões: é uma criatura que existe na ideia, um mito de certo modo, uma lenda apenas — algo que, na realidade, é muito mais feio do que somos levados a acreditar (13).
Saiba mais sobre Ophelia Arc @cease.and.perish // ceaseandperish.com
Fotos: Anita Goes
2. medicalnewstoday.com/articles/the-controversy-of-female-hysteria#Female-hysteria-in-the-18th-century
3. psychiatryonline.org/doi/10.1176/ajp.2007.164.5.737
4 .aequor.com/resources/the-roots-of-occupational-therapy/
5. mdhistory.org/exhibitions/wild-and-untamed/
6. nosubject.com/Jouissance
7. tiktok.com/t/ZP8fA4tgc/
8. quiltershalloffame.net/william-rush-dunton-jr/
9. ceaseandperish.com/palimpsests/crueltytoanimals
10. are.na/block/42735959
11. en.wikipedia.org/wiki/Spider_mapping?wprov=sfti1#
12. ceaseandperish.com/flayings/harm-and-repair-dependency-cycle-intro
13. are.na/block/42738130