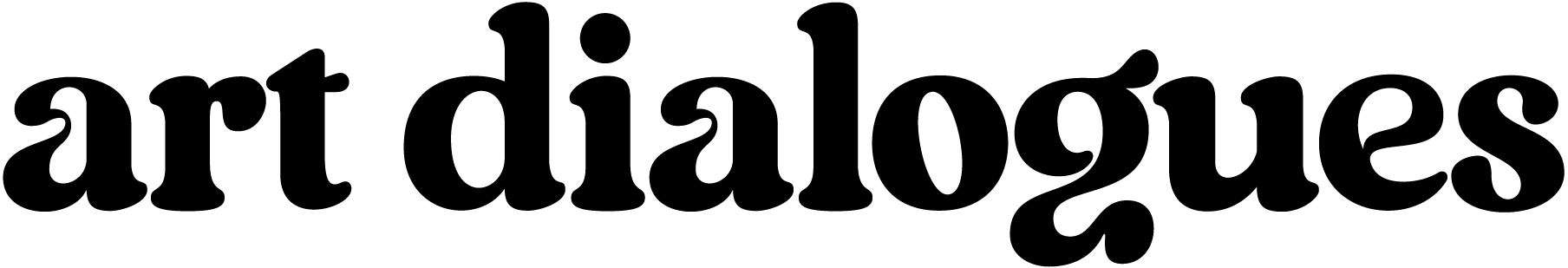Mayra Bueno Faour Auad: Acho que a gente pode começar a conversa a partir do nosso encontro.
André Hayato Saito: A gente se conheceu há mais ou menos sete anos e teve uma sintonia instantânea – de diálogo, de horizontes, de cinema, da forma de ver o mundo, né?
MA: Sim, a gente se encontrou sete anos atrás, quando você tinha um roteiro de longa a dirigir com outro diretor. Vocês tinham escrito em conjunto e quando me contaram a história, achei linda. E acho que seu cinema é muito baseado nas suas experiências de vida e nos encontros, que é também um cinema em que acredito, o do propósito, e que a gente consegue enxergar peculiaridades e nossos pontos de vista.
AHS: Um parênteses a respeito desse nosso encontro e das histórias que partem de um lugar pessoal, eu gosto de como ao caminhar juntos nessa parceria, a gente foi desenhando um traço de direção e de produção. Muito se fala sobre o traço de direção, sobre o diretor, mas existe sempre alguém produzindo esse diretor. Vejo a gente construindo um traço de direção/produção, ou seja, um traço de como gostamos de produzir e contar histórias. Porque é isso, todo esse processo até chegar ao “Amarela”, nosso curta-metragem que concorreu à Palma de Ouro no Festival de Cannes este ano. E daqui para frente também. Estamos de mãos dadas, desenhando juntos um jeito de contar as histórias que decidimos e escolhemos. E claro, você enquanto produtora produz vários outros autores e cada encontro com tais autores vai ser um desenho diferente, uma produção diferente, um olhar diferente. Mas a gente tem colaborado em histórias pessoais e também em um jeito de produzir que é muito artesanal, muito cuidadoso, muito íntimo.
MA: Íntimo! Essa é uma palavra importante porque a gente fez uma costura. O curta não levou sete anos para ser filmado, mas o processo levou sete anos. E falando de processo, que é algo que eu instigo bastante nos autores… Você tinha essa história pessoal sobre um encontro que teve com uma criança muito especial em uma viagem à Índia. E o roteiro é lindo e acho que ainda será feito de outra forma. Mas a partir daí a gente começou a provocar outros sentimentos. Então, a descoberta do por que contar essa história veio através da provocação de trazer um olhar sobre o quê e como você buscava comunicar isso. E a história era desse menino que fazia cinema ainda muito jovem. Vocês se encontraram, se conheceram, se conectaram e quando a gente começou a trazer para o lado pessoal, acho que você começou a se enxergar nesse menino.
AHS: Sim, porque esse menino de 12 anos tinha um sonho de fazer cinema, de se expressar. Eu, na verdade, o conheci quando ele tinha oito anos e tinha uma força no olhar e no jeito de se expressar e uma mensagem presa na garganta, com vontade de sair. Eu me vi muito neste personagem.
MA: Acho que a primeira provocação, a semente de tudo, foi pensar sobre o nosso lugar de fala ao retratar essa criança indiana, né? Porque a gente se preocupa muito em como vamos retratar as pessoas de quem a gente está falando. E aí com esse olhar, a gente entendeu que ele não seria indiano, e sim nipo-brasileiro.
AHS: É legal porque eu, como descendente de japoneses, vivi todo um processo com isso. Quando começamos a escrever um roteiro em 2020, que é o roteiro que a gente espera que venha a ser o meu primeiro longa-metragem, chamado “Crisântemo Amarelo”, você sugeriu que a gente contratasse uma roteirista. Foi quando entrou o Éri Sarmet, um roteirista e diretor também. E ele foi generoso na escrita, porque abarcou muito da minha história pessoal. Quando você chegou no projeto alguns anos antes, estava bem difícil avançar com o roteiro. Eu e o meu sócio desse roteiro estávamos insatisfeitos.
MA: Eram dois olhares muito importantes, muito bons. E um conseguia ter a empatia de perceber o olhar do outro e ver as qualidades nele. Era você e o Cesar Nery, que também trabalha com a gente aqui na MyMama e que ainda faz dupla com você na publicidade. Mas vocês são bem diferentes. O Cesinha colocava um ponto, você conseguia entender e apreciar de onde aquilo estava vindo, mas não necessariamente pensava que estava do jeito que queria para o seu primeiro longa. E acho que provoquei muito sobre esse projeto ser uma oportunidade de encontrar a voz de cada um no cinema. Nesse encontro de vozes, a gente foi percebendo que os dois tinham olhares lindos, porém muito diferentes.
AHS: Exato. E é por isso que o roteiro não estava avançando tanto. E nesse lugar do cinema de autor existe uma visão de mundo, um ponto de vista. Não que isso não possa ser feito em duplas, mas nesse caso não estava dando certo. Quando você sugeriu contratar uma roteirista de fora e que um dos dois liderasse as decisões, o negócio começou a andar. E começou a tomar forma quando eu comecei a trabalhar com o Éri Sarmet, em 2020. Era o começo da pandemia, em março, então foi bem difícil. A gente fazia reuniões de criação longas, de três, quatro horas, toda semana.
MA: E eu já estava morando na praia.
AHS: Olha só. E eu lembro que você levantou essa bola: e se esse menino fosse negro, em vez de indiano?
MA: Eu estava tentando trazer uma identidade brasileira, tentando trazer a história para o contexto do Brasil.
AHS: Sim, a gente estava querendo sair da Índia ou de um cenário “neutro”. Mas ainda não era isso. Aí quando você falou: e se ele for nipo-brasileiro? Aquilo me pegou. Eu precisei decantar essa informação por alguns dias.
André Hayato Saito, Hélcio Nagamine e Kadu Oliveira, durante a filmagem de “Amarela”. São Paulo, 2023. Foto: Danilo Arenas.
Luana Demange, durante a filmagem de “Amarela”. São Paulo, 2023. Foto: Danilo Arenas.
MA: Você é terceira geração, né? Como fala mesmo?
AHS: Issei é a primeira geração, nissei a segunda, e sansei a terceira.
MA: E é uma cultura muito interessante. Foi uma descoberta para mim. Eu agora estou tentando ser adotada pela sua família [risos].
AHS: [Risos] Isso me pegou. Eu não tinha considerado essa possibilidade de fazer uma história assumidamente nipo-brasileira ou de contar a história de uma comunidade asiática brasileira. E depois de meses de criação, a gente decidiu que “Crisântemo Amarelo” seria a história de uma menina nipo-brasileira de 14 anos, a Erika.
MA: Acho que a escolha da menina também veio do fato de que o roteiro estava parecendo um pouco biográfico, né? Se o personagem fosse branco, independente do gênero, ninguém associaria muito a algo autobiográfico. Mas por haver esse recorte nipo-brasileiro, isso levava a pensar que era uma história totalmente autobiográfica.
AHS: Não tinha pensado nisso.
MA: Eu achei que quando a gente trouxe a menina, isso te deu liberdade. Quando a personagem era um menino, me parece que havia algo de mais angustiante para você.
AHS: Que interessante. Realmente, eu não queria uma autobiografia. Nunca foi sobre isso. Eu quis contar uma história e colocar muitas coisas que me atravessam nessa história, sem dúvida, mas não que fosse a minha história.
MA: Por isso eu vejo a menina como ponto-chave para esse distanciamento que a gente conseguiu criar. Engraçado a gente nunca ter falado sobre isso.
AHS: E é interessante a sua visão a respeito disso. Se fosse um menino branco, a gente não teria essa questão.
MA: Sim, porque existe, de fato, um preconceito com pessoas “amarelas”. Ele tem muitas nuances, mas sem dúvida existe e é bastante presente. Os primeiros curtas que produzimos juntos (“Kokoro to Kokoro” e “Vento Dourado”), eram documentais, mas
também ficcionais – uma mistura de ambos, mas só com personagens nipo-brasileiros. E,
com isso, quando a gente mandava um filme para pessoas que não eram do Brasil, elas
entendiam como um filme japonês.
AHS: É verdade, né? E é engraçado porque mesmo que os personagens falem em português, como em “Vento Dourado”, as pessoas ainda achavam que o filme era japonês.
MA: E é estranho porque você também tem que se encontrar nesse lugar, né? Quando você manda um filme para um festival, os programadores escolhem filmes que representam os países de onde eles vêm. Quando eles recebem um filme brasileiro, existe uma expectativa sobre o tipo de filme e os nossos filmes não se encaixavam nesse esperado perfil de filme brasileiro. Foi uma dificuldade até a gente encontrar festivais que conseguissem olhar para isso.
AHS: Que louco! É uma discussão profunda essa e é legal a gente trazer aqui para a Art Dialogues, diálogos sobre processos artísticos. Porque a imagem é muito forte e muito poderosa, né? O fenótipo que o asiático, que a pessoa amarela tem no Brasil, carrega um monte de histórias, narrativas e preconceitos.
Alice Saori, still do filme “Amarela”. São Paulo, 2023. Cortesia: MyMama Entertainment.
MA: É muito louco porque a porque o foco dessa trilogia não é somente sobre a comunidade nipo-brasileira. A gente estava contando a história desses personagens que estavam vivendo a vida deles. São filmes com muitas camadas, que abordam o espaço entre morte e vida, e isso não se encaixava no que os festivais esperam do cinema brasileiro.
AHS: Mas é até interessante também o quanto, por exemplo, ter ambientado o curta “Amarela” numa final de Copa do Mundo, no Brasil, foi um jeito de apelar inconscientemente para isso. Tipo, eu estou falando de Brasil, sil sil. É um grito. Quando é que vão me reconhecer como brasileiro? E é louco porque a gente às vezes se flagra tendo o mesmo tipo de preconceito ou de visão limitada a respeito de outras nacionalidades.
MA: Sim, e o que é ser brasileiro, né?
AHS: Exato. Se você pensa num filme sueco, provavelmente, vai pensar de bate-pronto em pessoas brancas suecas, e não na comunidade afro-sueca. E eu acho que o “Amarela” acaba trazendo um pouco desse valor de ampliar nossa visão a respeito do que a gente visualiza sobre as nacionalidades.
MA: Sim… Até mesmo com questões de gênero. A gente está falando muito sobre como você se apresenta, como você se coloca, como você se sente. E isso é uma parte obviamente importante. Mas é também sobre como as pessoas te vêem, né? Por isso o lugar de fala é importante. Eu, por exemplo, sou de família libanesa. Meu avô veio fugido da guerra para cá de navio, sem dinheiro. Aquela história: veio menino menor de idade para tentar uma vida no Brasil. Então, eu também sou diaspórica. Mas eu não aparento tanto, então…
AHS: O fenótipo “a princípio”, não é tão marcante assim. Mas na verdade, afinando o olhar, é bem marcante também…
MA: Porém, o Brasil é muito misturado.
AHS: Por isso que esse recorte se torna tão interessante quando contextualizado no Brasil. A gente está num país com muita mistura cultural e fenotípica, né?
MA: Exato. E aí, só pra gente fechar esse capítulo, o longa encontrou uma protagonista nessa menina nipo-brasileira que chamamos de Erika. E, dentro disso, você conseguiu criar a história com muito mais personalidade e com um olhar para os pequenos detalhes. Tipo, é Feijoada com Gohan, né? É imagético também. Estamos trabalhando no longa que originou o “Amarela” há quatro anos e meio, amadurecendo o roteiro, levando em mercados e laboratórios. Levamos para Cannes, Toronto, para o Berlinale Talents, ele foi selecionado para um laboratório com o Apichatpong [Weerasethakul]. É um projeto que vinha já com força. Mas o longa-metragem é um processo muito longo, que exige muita paciência. Faz parte do amadurecimento daquela história também, é como a gestação de um filho ou esperar pela adoção, né? Esse tempo muitas vezes é necessário para você se encaixar, se preparar.
AHS: Não é um vômito súbito que aparece. É uma gestação geralmente longa porque é um processo coletivo, artesanal. E demora mesmo se compararmos a curtas, publicidade, ou videoclipes, né?
MA: Sim, o projeto tem que estar muito forte para você conseguir financiamento. Então, isso acaba fazendo com que você tome vários nãos e esses ‘nãos’ são muito estimulantes para você encontrar os seus ‘sims’. Porque isso não significa que o seu projeto é ruim, mas te dá oportunidade para olhar bem para si próprio, pro projeto e entender: ok, o que eu tenho aqui? É uma provocação constante. E eu acho que a arte tem o intuito de provocar. O nosso processo acaba sendo provocativo, apesar de super burocrático porque a gente tem que escrever defesas, inscrever em edital, fazer contrato e tal. Você tem que querer muito para conseguir fazer cinema, né? Por isso, acho que vale você falar um pouquinho dessa sua ânsia de fazer o “Amarela”.
Imagem superior: Melissa Uehara e Marina Medeiros. Centro esquerdo e direito: Cozinheiras ACREC, imagem inferior: Joana Amaral, Lorena Castro e Bernardo Antonio. Making of do filme “Amarela”, São Paulo, 2023. Foto: Danilo Arenas.
AHS: Ano passado (2023), minha esposa, a Tati Wan, entrou como co-roteirista e co-produtora de “Amarela” – ela já tinha feito os outros dois últimos curtas conosco. Ela estava grávida e a gente estava com um filhote para nascer em setembro. Quando foi em março, liguei para você e falei: Eu preciso fazer um curta-metragem 100% ficção antes do longa-metragem. Como os outros dois curtas anteriores foram docs-ficção, eu fiquei com isso na cabeça, com essa obsessão. E como o tempo era muito curto, eu não ia escrever um roteiro do zero. Minha proposta foi pegar a personagem principal do longa que a gente já vinha escrevendo.
MA: Uma personagem que vinha sendo construída há quase quatro anos.
AHS: Exato. Hoje a gente já fala em proof of concept. Então, é um protótipo, um ensaio para o longa-metragem. Mas eu senti muito essa necessidade de fazer um curta 100% ficção e encontrar essa garota. E se isso serviria para o longa ou não, se a personagem funcionaria ou não, no mínimo seria como um teste para a gente ver o potencial da história e que daria ou não certo. E, obviamente, quando a gente entra nesses processos artísticos de contar as nossas dores, traumas e colocar em narrativas ficcionais muitas das mensagens que queremos transmitir para o mundo, isso sempre vem embalado em muito questionamento, dúvida, medo e vontade de desistir. Porque é difícil fazer cinema no Brasil e em qualquer lugar. Então, você se pergunta: Será que isso é mesmo interessante? Será que alguém vai achar legal? Será que só a comunidade japonesa vai achar legal? Será que só a comunidade asiática brasileira vai achar legal? Será que é um tema universal? Então, eu senti que precisava muito testar e, com isso, a gente fez um corre absurdo. Eu apresentei o projeto para muitas, muitas, muitas pessoas e empresas para conseguir financiamento, apoio e, enfim, em três meses a gente conseguiu levantar.
MA: O que é um milagre, porque… E a gente já havia investido tanto do nosso dinheiro em tanta coisa. Era importante entender como conseguiríamos financiamento, sem nós mesmos investirmos de novo.
AHS: Tinha até um novo edital aberto e a gente se inscreveu.
MA: Mas você tinha dúvidas se daria tempo de sair o edital.
AHS: É. E para mim é interessante ver que essa urgência veio não só pelo fato de querer produzir um experimento antes do longa, como também porque eu coloquei na cabeça que queria fazer o “Amarela” como um rito de passagem para a paternidade, onde eu pudesse me debruçar sobre o roteiro, sobre a direção, sobre a produção, apresentando algo para 1000 pessoas antes do meu filho com a Tati chegar. E a gente conseguiu fazer isso em tempo recorde, mesmo sem ter conseguido o edital. Foi tipo um milagre mesmo.
MA: Você colocou na cabeça que não ia esperar. E eu fui deixando, mas era um financiamento que precisava vir de fora. E você foi lá e conseguiu. Só você mesmo que consegue pessoas para acreditarem e investir dinheiro em curta-metragem, porque o retorno financeiro para isso não existe.
AHS: É quase nulo mesmo.
MA: E a gente não sabia que o curta ia parar em Cannes, né? A intenção não era essa. A intenção era mesmo fazer esse proof of concept. E fazer cinema é uma jornada de risco muito grande, porque a gente não tem ainda uma formação de público no Brasil… Eu estou falando mais do audiovisual, do cinema, mas eu vejo como uma questão para a arte em geral que é fazer arte que traga retorno financeiro. Então, distribuição para nós é um aprendizado. Graças a Deus temos fomentos que possibilitam a produção cultural, que
coloca essa cultura como algo relevante. Mas, ainda assim, existe uma dificuldade em torná-la viável e fazer com que chegue nas pessoas. Foi muito importante ver as pessoas darem a mão para o André e para o “Amarela” e acreditarem nessa história. Aliás, acho que a gente não contou a história, a sinopse do curta, né?
AHS: É a história de uma menina de 14 anos nipo-brasileira no dia da final da Copa do Mundo. Ela rejeita as tradições familiares japonesas dentro de casa, e fora de casa ela sofre com muito preconceito, além de um racismo que ainda parece “invisível”, vamos dizer assim.
MA: Tem duas cenas emblemáticas. Uma é quando ela está assistindo a Copa com os amigos e aí começa uma discussão sobre futebol e tal, e o amigo fala: “Volta pro Japão.” É uma coisa super pesada. Outra amiga fala algo como: “você fica fofa torcendo para o Brasil”. E ela é brasileira, a família dela é brasileira, mas as pessoas a enxergam somente como japonesa. Então, acho que são duas falas importantes ali.
AHS: Eu ouvi muito isso em toda Copa do Mundo. Eu ainda ouço na verdade, sabia? Gente que pergunta: “se o Brasil for jogar contra o Japão, pra quem você torceria?
MA: Jura?
AHS: Toda Copa. É uma loucura.
MA: É como se me perguntassem se eu vou torcer para o Brasil ou para o Líbano.
AHS: Exato [risos]. Então, o “Amarela” ocupa esse entrelugar identitário. É muito complexo, principalmente para uma criança ou para uma adolescente, você ser afirmada todo o tempo como algo com o qual você não se reconhece. Então, ela não se reconhece como japonesa, chinesa, oriental. Mas todo mundo a afirma como tal. E o recorte do “Amarela” vem contrapondo a cultura japonesa com a cultura brasileira, que são culturas muito diferentes, não só em fenótipo, mas em muitos aspectos.
Melissa Uehara, stills do filme “Amarela”, São Paulo, 2023. Cortesia: MyMama Entertainment.
MA: E como foi sua escolha de equipe para o curta?
AHS: Eu cismei que queria tentar juntar o maior número possível de pessoas asiáticas brasileiras na equipe. Então, a gente compôs uma equipe majoritariamente amarela. Nesses 15 anos fazendo filmes, eu nunca estive num set onde eu vi tanta gente parecida comigo.
MA: Eu também nunca tinha visto um set assim.
AHS: Veio um sentimento de pertencimento, que é algo que eu realmente busquei muito na minha vida e sempre foi difícil de encontrar. Existe uma grande questão para a comunidade amarela no Brasil que é clássica, e no meu recorte é: me sinto muito japonês para ser brasileiro e muito brasileiro para ser japonês. Então, esse entrelugar identitário te coloca numa situação que muitas vezes para um adolescente, uma criança ou mesmo para um adulto, é difícil se sentir pertencente, porque fica uma coisa nem lá nem cá. Até você descobrir que esse meio, essa fronteira, é gigante, e que entre branco e preto há infinitas cores. Foi muito legal ter conseguido trazer muitas pessoas amarelas para a equipe. E para elas também foi uma coisa muito forte porque acho que todo mundo abraçou a história como um grito represado. Algo como: caramba, eu nunca me vejo representado, e quando eu me vejo é de uma forma muito estereotipada ou fetichizada. Ver personagens asiáticas femininas hipersexualizadas e personagens masculinos assexuados é algo muito comum. Ainda existe essa coisa da mulher asiática ser uma das maiores buscas em sites pornográficos no Brasil. Então, tem esse lugar da submissão, do estereótipo, da fetichização ou do assexuado. A maneira que o corpo asiático é visto é uma coisa bem complexa. Então essa sensação de que NÓS mesmos estávamos contando a NOSSA história foi algo profundo para todes ali. E como isso é raro!
MA: Foi lindo. E houve uma união muito bonita de se ver. A gente não pensa muito nesse recorte, né? A gente vai chamando quem a gente está acostumado a trabalhar junto, mas a gente tem que prestar atenção e falar sobre branquitude sempre. Você abriu o set falando o nome e sobrenome das pessoas “amarelas” em homenagem aos ancestrais e todo mundo chorou muito. Por você se sentir parte de algo, não porque você está num lugar designado para você, estereotipado, mas porque você está no seu trabalho normal. É um set de cinema e você está desempenhando o seu ofício, porém com pessoas com quem você se identifica e que entendem o que é ser um brasileiro asiático, né? E é engraçado porque há tantos estereótipos de brasileiro também, mas existe uma diferença cultural. Eu lembro do seu pai falando ontem, que eu fui almoçar com a sua família, de uma maneira muito linda que não se reclama de comida, se está boa ou se está ruim.
AHS: Foi interessante essa fala mesmo.
MA: Ele estava dizendo que não era o papel dele falar sobre aquilo. O que me lembrou outra coisa que você diz, que eu acho curioso, é que na cultura asiática, especialmente a japonesa, quem fala menos ganha.
AS: Tem bastante isso. O não dito e o silêncio é uma coisa forte.
Imagem superior: André Hayato Saito e Jacqueline Sato. Imagem central: Gabriela Akashi e Hélcio Nagamine. Imagem inferior esquerda: Tati Wan, André Hayato Saito, Hélcio Nagamine. Imagem inferior direita: Melissa Uehara, Tati Wan, André Hayato Saito e Mima Mizukami.
Making of do filme “Amarela”, São Paulo, 2023. Foto: Danilo Arenas.
MA: E no “Amarela” a gente vê essa personagem se expressando com tanta força, né? E foi algo que a gente ouviu muito no Festival de Cannes… Todo mundo ficou muito encantado com o filme, com você e com a nossa protagonista, a Melissa, e o quanto ela é gigante na tela. Outro dia fui no Tomie Ohtake e estava rolando uma exposição de diásporas asiáticas… Acho que vi três exposições diferentes, uma de cerâmica e outra de pintura, e consegui enxergar como as culturas se misturam. Talvez se fosse somente asiática, não teria esse olhar que o Brasil traz e vice-versa. Estive também na Bienal de Veneza este ano, cujo tema era sobre diásporas, e foi realmente uma experiência muito forte. Chorei muito. Você entrava em cada pavilhão com uma diáspora e vivia dentro daquela perspectiva. E adentrar essas diásporas é um pouco o que a gente consegue sentir quando assiste ao “Amarela”. Porque você se sente entrando fisicamente dentro daquele espaço e vendo aquela comunidade, aquela arte. Eu, como produtora, tive mais acesso do que o espectador comum porque estava fisicamente dentro daquele universo, daquela equipe.
AHS: E dentro daquela locação. A gente filmou na casa em frente à casa em que eu morei no Jardim Sônia, na Zona Norte, em São Paulo, Brasil, por 25 anos da minha vida. Rolou um processo legal de pesquisa de locações e eram todas aquelas casas do bairro da Lapa, do bairro do Ipiranga, em que se filmam muitos curtas e séries. E eu falei: não é nada disso! E aí a Luana Kawamura Demange, nossa diretora de arte, falava: “Saito, você precisa ir na realidade, buscar onde essas pessoas estão”. E eu acabei voltando a encontrar, depois de 15 anos, pessoas da minha rua, meus vizinhos antigos que ainda estão lá naquela mesma rua, com aquela mesma loja. E a gente filmou dentro daquelas casas e isso imprimiu muita verdade. Não era um cenário com objetos colocados e, sim, o nosso mundo.
MA: É curioso que nós dois somos da Zona Norte de São Paulo. Lá é muito grande, também existe uma comunidade árabe lá. Meu avô começou a trabalhar como ajudante numa lojinha de secos e molhados, algo muito comum entre os árabes, e depois ele teve a lojinha dele. E embaixo da casa que foi nossa locação também tinha uma lojinha de tudo, né? Uma coisa muito “ZN” ao mesmo tempo, um bazar vendendo milhares de coisas. É engraçado porque a Zona Norte de fato parece uma outra cidade, né?
AHS: Sim, acho que tem até um bairrismo por parte de quem mora na ZN.
MA: As pessoas vêem como uma grande periferia, mas de fato grande parte das comunidades diaspóricas de São Paulo estão por lá. E quando entrei naquele lugar, também me senti em casa, porque cresci por ali. E acho que voltamos para onde a gente começou a conversa que é sobre dar a oportunidade para as pessoas verem pontos de vistas diferentes. Caso contrário, toda obra de arte seria igual. Tudo o que a gente vê, tudo o que a gente vive é referência. E o que é mais lindo no que a gente pode fazer, e que é o que buscamos no nosso cinema, é descobrir novas histórias, novos olhares e novas maneiras. E você pode fazer essas descobertas através de uma ficção científica maluca, porque aqueles personagens, aquelas ideias, vêm construídas através de muitos sentimentos, não é?
AHS: Essa história do bazar foi muito interessante, porque é bem comum em famílias japonesas não existir essa divisão entre espaço do comércio e casa. Você mora onde você trabalha e trabalha onde mora. E a nossa protagonista Erika vive nesse contexto. O filme se passa em 1998 e nos anos 90 era bem comum pessoas nipo-brasileiras começarem a trabalhar na lojinha, no bazar, na feira, no mercadinho, desde muito cedo. E existe um tanto de devoção ao trabalho que é forte na cultura asiática em geral. E é interessante que com essa investigação da minha ancestralidade japonesa e da identidade amarela no Brasil, a gente passou a enxergar esses curtas como uma trilogia, né? E depois dos dois curtas meio documentais meio ficcionais, que as pessoas enxergavam como filmes japoneses, o “Amarela” veio com essa força de finalmente confrontar e atritar a cultura brasileira com a japonesa.
MA: Uma parceira minha, a Ilda Santiago, diretora do Festival do Rio, que foi produtora associada desses curtas, comentou que nos dois primeiros você estava em busca da sua ancestralidade, como um brasileiro tentando se encontrar nesse lugar japonês, e no “Amarela” você se volta para o Brasil.
AHS: Exato. Eu costumo falar que com o “Kokoro to Kokoro”, o primeiro, eu filmei lá no Japão, então, eu estava lá na caverna das minhas raízes. Em “O Vento Dourado”, que é o segundo dessa trilogia, já foi diferente. Filmei com a minha família, num sítio no interior de Curitiba.
MA: Esse, aliás, acabou de passar no Kinoforum.
AHS: Ah é! O Festival Internacional de Curtas de São Paulo é maravilhoso! Eu vi muitos filmes no Kinoforum. Esse festival formou muito do meu olhar cinematográfico. E o “Amarela” vai fazer sua estréia norte-americana em setembro no TIFF, em Toronto.
MA: E no Brasil a gente tem vontade de que estreie no Festival do Rio. Quando o filme estreia na Competição Oficial do Festival de Cannes, isso abre muitas portas, o que é demais. As estreias de “O Vento Dourado” e do “Amarela” foram meio conjuntas,. A gente começou com “O Vento Dourado” no 46 Festival de Cinema de Moscou, depois no 31 Sheffield Doc Fest e depois no 20 FEST: New Directors, New Films, em Portugal. Então, ele está andando na paralela com “Amarela” e eles conversam muito. Queremos também fazer uma exibição aqui em São Paulo, na Sato Cinema, que fica na Liberdade e é muito frequentado pela comunidade asiática, mostrando os três filmes. Mas, aproveito para lembrar o leitor que você tem outros trabalhos além desses três [risos].
AHS: Acho que isso nos leva de volta ao nosso traço como dupla, como time. Ao fazer esses três filmes juntos, parece muito natural que essa jornada tenha sido parte de uma gestação para o longa-metragem.
MA: É uma construção conjunta mesmo. E eu acho muito lindo o espaço que você sempre me dá como produtora. Eu já trabalhei com alguns autores e tem gente que valoriza, tem gente que não. Mas é uma construção conjunta e tem que valer a pena para os dois lados. Então, é um relacionamento também. A arte sozinha é bem mais difícil. Eu poderia contratar diretor, roteirista, e criar o que for, mas não teria o mesmo olhar dessa parceria que a gente tem. Do mesmo jeito, você pode falar que vai fazer tudo sozinho. Você ajudou a captar recursos para “Amarela”, você foi ao Japão sozinho. Mas a gente chegou onde chegou por causa das duas influências.
AHS: Somando essas forças.
MA: Eu incentivo muito essas parcerias de forças complementares, até porque elas não se dividem. Eu não espero nada do seu cinema, que não seja seu. É sempre sobre você conseguir colocar a sua visão de mundo.
Imagens superiores: Carolina Hamanaka, Kazue Akisue, Ricardo Oshiro e Melissa Uehara,
stills do filme “Amarela”, São Paulo, 2023. Cortesia: MyMama Entertainment.
Imagem inferior: Melissa Uehara, durante as gravações de “Amarela”, São Paulo, 2023. Foto: Danilo Arenas.
AHS: Eu acho muito legal esse papo, porque geralmente nas entrevistas a gente acaba recebendo as mesmas perguntas e dando as mesmas respostas. E quando a gente entra um pouco mais adentro das nossas histórias, eu consigo acessar muita beleza dentro de um processo que é doloroso, é frustrante, é difícil. Que exige muita persistência. Fazer cinema é um ato de resistência, é realmente muito difícil. Esses dias eu te mandei um e-mail porque a gente foi pra Cannes e depois participou do Torino Film Lab, e passamos um mês juntos. Esse laboratório seleciona dez projetos, dez duplas de diretor e produtor. São filmes super autorais incríveis. E foi uma experiência assim, né, Mayra, de uma investigação artística muito profunda. E eu queria muito conversar sobre coisas mais profundas a respeito desse nosso encontro. Dizer o quanto eu sou grato por a gente ter realmente somado forças. E por termos colhido frutos e ao mesmo tempo plantado sementes. Sinto que a gente tem cuidado da terra juntos, sabe? Mas eu não consegui ter essa conversa porque meu voo de volta para o Brasil foi adiado e a volta foi um caos, então te mandei um e-mail para expressar o quanto eu sou grato por essa mão generosa. Existe uma potência no seu olhar generoso, que é também provocativo e extrai o melhor do autor, uma originalidade. Sinto que você tem mesmo um dom, um talento, como produtora.
MA: Que bom que foi por e-mail que você me falou essas coisas, porque às vezes a gente acorda sem propósito. Quando eu esquecer do meu propósito, eu vou ler esse e-mail.
AHS: Eu sinto que a gente navega nesse barco sob muita tormenta, mas de alguma forma a gente consegue navegar. E não sem atritos, mas atrito gera vida e confronto e diferença de opinião e perspectiva. E ufa, a gente tem navegado com beleza e gentileza.
MA: Com verdade, com empatia.
AHS: Eu sinto que realmente é um presente a gente fazer isso juntos. Obrigado!
MA: Pra mim também. Acho que a gente pode finalizar com esse presente, né? Obrigada.
Stills do filme “Amarela”, São Paulo, 2023. Cortesia: MyMama Entertainment.
Para saber mais sobre o trabalho do Saito: @andrehsaito // andrehayatosaito.com
Para saber mais sobre o trabalho da Mayra Auad: @mayrauad
Para saber mais sobre a MyMama: @mymama___

Melissa Uehara, stills do filme “Amarela”, São Paulo, 2023. Cortesia: MyMama Entertainment.
A Art Dialogues gostaria de estender suas mais sinceras felicitações à incrível equipe por trás de “Amarela” por suas notáveis conquistas. Estamos profundamente orgulhosos de testemunhar a concretização de um projeto tão poderoso e inovador, impulsionado por uma visão compartilhada de explorar identidade, cultura e expressão artística.
A dedicação, paixão e criatividade dessa equipe não apenas resultaram em uma obra cinematográfica deslumbrante, mas também abriram importantes conversas sobre a interseção das experiências diaspóricas brasileiras e asiáticas. Sua jornada, marcada pela colaboração, resiliência e profundidade artística, é um exemplo inspirador da beleza que emerge ao confrontar as complexidades culturais e abraçar a autenticidade.
Estamos honrados em celebrar seu sucesso e ansiosos pelos muitos outros feitos que certamente virão!

Luana Demange, Ilda Santiago, Mayra Faour Auad, Luigi Madormo, Melissa Uehara, André Hayato Saito, Fernando Camargo, Tati Wan e Satya, Rodrigo Pasianotto, Gabrielle Auad, Jacqueline Sato e Cesar Nery – Tapete Vermelho do Festival de Cannes – Foto: Soraya Ursine.