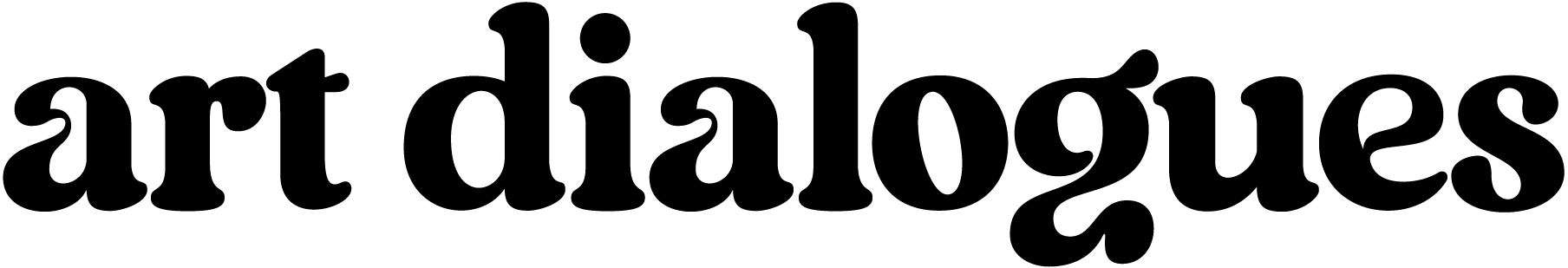Meu ateliê fica num desses lugares que podem ser chamados de “coração” do rio de janeiro: O tradicional e boêmio bairro da lapa – terra da malandragem, dos corpos disruptivos e da contracultura carioca, abriga também o espaço que compartilho, a um pouco mais de dois anos, com outros 5 artistas. Alguns deles, assim como eu, também migrantes de regiões periféricas.
O Rio de Janeiro tem vários corações, e nem todos batem no centro.
Meu primeiro ateliê foi a rua, posso dizer que o primeiro suporte e a primeira linguagem também. Fazia trabalhos de graffiti e dava oficinas em escolas, creches e espaços culturais em troca de material. Nesse processo conheci muitas quebradas, bairros, ruas, becos… Experimentei, de forma ainda mais profunda e verdadeira, a cidade em seu devir e o pertencimento à ela. Cultivei coletividades, vivi amores e perigos, acreditei que podia ser artista. Sem dúvida, o graffiti foi uma paixão, uma virada cognitiva, uma revelação que reconfigurou minha visão sobre o mundo e sobre mim mesma. Foi a rua e o graffiti, a encruzilhada que abriu o caminho para minha prática artística, contaminando-a intrinsecamente com suas cores, sua escala, sua liberdade.
Moro no famoso morro do São Carlos* Desde de 2021 e, todo dia, para chegar ao ateliê é preciso descer o morro e ultrapassar esse portal, demarcado por uma fronteira simbólica, estrutural e desumanizante que nos separa deles. Grande parte de minha pesquisa com meu arquivo familiar, nasce das inquietações que esse lugar me trás. Esse território antigo – ainda negro, ainda favelado – carrega feitiço que não deixa o corpo esquecer. Meu corpo precisou voltar ao epicentro da chegada negra no Brasil**, para escavar e descobrir fragmentos que estavam guardados na memória simbólica e ritual dessa parte da cidade.
Pra mim, que sei – e sei apenas – que minha família paterna, no início dos anos 1900, vivia na zona sul do rio de janeiro, começo essa reflexão pensando, ao mesmo tempo, na cartografia da exclusão que nos empurrou, como tantas outras famílias negras, para as margens urbanas. Em contraponto com essa espécie de “retorno” enquanto um lugar de saga, ou destino. Estava riscado no chão. Eu precisava estar aqui.
Mas não se engane, apesar da periferia ser pensada para atuar como uma máquina de exclusão e esquecimento, nós já vivemos a diáspora antes, e aprendemos com ela que o corpo – única ferramenta de possibilidade para a pessoa negra – que guarda a memória, o ritmo e o sentimento, enxerga na marginalidade e na boêmia, um lugar de possibilidade de existência para as artes pretas, desafiando a condição de não-humanidade, apagamento e violência estrutural. Criar novas formas de existir e imaginar o mundo, é o ritual que nos mantém vivos.
Minha pesquisa é fundamentada em três conceitos-pilares: Corpo, Memória e Território. Em minha prática, atuo como quem cataloga uma parte específica da cidade, onde reverbera o tempo da cultura negra, gravado no corpo, codificado no ritmo e em minha própria biografia – que ressoa a bibliografia de tantas pessoas comuns, como eu.
Parafraseando Itamar Assumpção, e pedindo licença para uma pequena alteração:
Não, Rio de janeiro é outra coisa.
Não é exatamente amor,
É identificação absoluta.
Sou EU.
Sankofa. A vida da população negra é moldada pelas expressões culturais e performáticas que ela mesma cria. Essas expressões nascem de uma força simbólica muito grande – cheia de significados, dores, afetos, que por viverem cerceadas de liberdade, não conseguem ser controladas e, por isso, muitas vezes se manifestam através do caos.
Apesar de me relacionar artisticamente com outras linguagens, meu ateliê é, essencialmente, um ateliê de pintura com cheiro de óleo. Tenho uma pequena obsessão por tons quentes e saturados e tamanhos monumentais – uma herança que herdei do meu início no grafite e na arte de rua. Hoje, a pintura e o espaço do ateliê (ou a falta dele), tem me desafiado a decantar o excesso. O que não é simples para uma pessoa que tende ao exagero e ao maximalismo.
Nas pinturas que compõem as séries Baile do Egito e “Pictografias Funkeiras”, não procuro representar, mas registrar imagens – as que nascem da favela, que sobrevivem de um tempo negro e ancestral e que moram no futuro. O corpo, como ritmo-ritual, em que o tempo se embaralha. Não se trata de sobrepor imaginários distintos, mas de revelar um só.
Porque nós, pessoas negras, aprendemos que existe um tempo que não está no relógio. Um Tempo que é Deus, Inkice, Orixá…
Eró! Iroko kissilé!
O ateliê é o corpo, o ateliê é bairro, o ateliê é a casa, o ateliê é a vida. Cresci em Costa Barros, onde o baile do Chapadão foi rebatizado de “Baile do Egito”. Ali, o nome “Egito” soa como código e magia, performando uma nobreza e um senso de pertencimento que não nos foi dado, mas que sempre existiu. Essa nomeação popular que acontece no Rio de Janeiro com as favelas e seus bailes, me parece um ato sofisticado de fabulação territorial. Um modo de torcer as fronteiras e invocar novas possibilidades para um mundo possível. Organizar o caos e não se perder em seu labirinto.
Nesta série, traduzo na pintura essa operação, usando como inspiração a iconografia kemética, não como citação direta ou reverência arqueológica, mas como frequência ou ritmo. As poses de dançarinos de funk ecoam as figuras de perfil nos baixos-relevos. Há algo de sagrado na repetição dos movimentos, algo de cosmogônico na arquitetura improvisada da lona, das lajes, do baile, das pirâmides, dos morros…
Pintar, para mim, é inscrever no presente uma memória que os arquivos oficiais e ocidentais tentam apagar. As figuras que surgem nas telas são fragmentos de um corpo coletivo: corpos que souberam fissurar as categorias de humanidade do Ocidente e transitar entre o visível e o invisível.
Na diáspora, o corpo é o primeiro continente.
E acredito que a pintura, com sua superfície cheia de camadas, seja um desses lugares onde ele ainda possa se esticar, fabular, e reencantar a própria existência.
* Morro do São Carlos — Localizado no bairro do Estácio, é uma das favelas mais antigas do Rio de Janeiro, formada no início do século XX após reformas que expulsaram populações pobres do centro. Tornou-se referência cultural ao abrigar a escola de samba Deixa Falar (hoje Estácio de Sá), considerada berço do samba. Entre moradores ilustres estão Zé Keti, Ismael Silva, Luiz Melodia, Gonzaguinha, Dominguinhos do Estácio, entre outros.
** Epicentro da chegada negra no Brasil — A região central do Rio de Janeiro, que inclui bairros como o Estácio e a Lapa, está próxima do antigo Cais do Valongo, principal porto de desembarque de africanos escravizados nas Américas, reconhecido como Patrimônio Mundial da UNESCO. Após a abolição, milhares de ex-escravizados e seus descendentes se fixaram no centro e nos primeiros morros ocupados (como o Morro da Providência e o Morro do São Carlos), dando origem às favelas. O Estácio se tornou referência como “berço do samba” — foi lá que, em 1928, surgiu a Deixa Falar, considerada a primeira escola de samba. A Lapa, por sua vez, consolidou-se como polo boêmio e cultural, espaço de encontro de sambistas, intelectuais e trabalhadores negros. Por isso, essa região é compreendida como um epicentro simbólico da memória da diáspora africana no Brasil.
Para saber mais sobre Thaís Iroko @thaisiroko
Fotos (retratos & estúdio): Dante Belluti // Imagens das obras: Cortesia da artista.